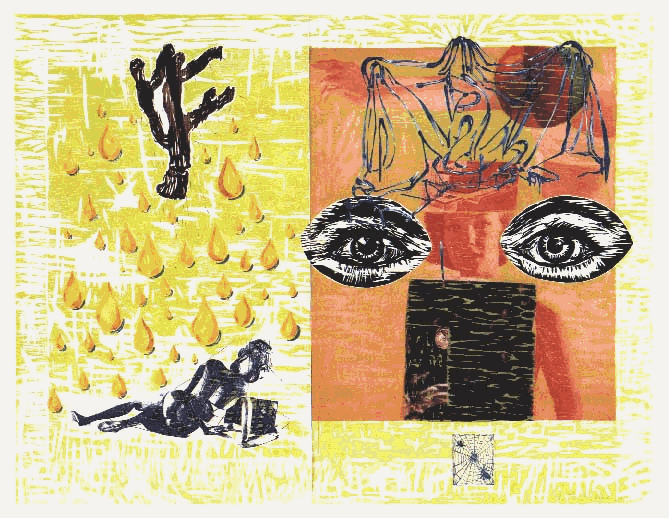
PINTURA E OBLIQÜIDADE: UMA REAPRESENTAÇÃO DE DAVID SALLE
Jorge Lucio de Campos*
"Toda obra é uma viagem, um trajeto, mas que só percorre tal ou qual
qual caminho exterior em virtude dos caminhos e trajetórias interiores
que a compõem, que constituem sua paisagem ou seu concerto"
G. Deleuze
1
A suposta falência do cânon modernista (cujo início ter-se-ia dado em meados da década de 70) trouxe no bojo uma crescente inquietação – com respostas nem um pouco claras – acerca dos parâmetros atuais da atividade artística. Digo isso porque o acirramento de novas orientações de tratamento da questão (discerníveis na recente querela entre modernos e pós-modernos, ou, como alguns preferem, entre utópicos e pós-utópicos(1), ou, ainda, entre orgiásticos e pós-orgiásticos)(2) até agora não bastou para estancar uma certa sensação de embaraço e, mesmo, de impotência diante da situação.
Foram, sem dúvida, decisivas as muitas transformações sofridas pela arte nos últimos anos, com destaque para o notável incremento de seu nível de ‘popularidade’ – levado a cabo, sempre ‘desinteressadamente’ e com inegável zelo e competência técnica pelos meios de comunicação de massa, em nome de uma ‘justa’ (re)educação estética – assim como para o tardio, mas providencial reconhecimento, em termos econômicos, de sua capacidade produtiva. Esses dois fenômenos geraram, por sua vez, um interesse mercadológico pelas obras não só nos Estados Unidos(3) e na Europa, mas, praticamente, em todo hemisfério ocidental. Tudo isso ao sabor, é claro, da ilusão dourada de sua definitiva integração – processo que, na verdade, já se encontrava a pleno vapor em meados do século XIX – ao padrões de gosto burguês e neoburguês.
Apesar dos reflexos serôdios dos impasses gerados, ao longo do século passado (principalmente de 1905 a 1926), pelas relações, simbolicamente contraditórias, entre o conceito de vanguarda e a ideologia progressista típica da moderna sociedade industrial, como bem lembra Howard Fox, "nunca houve na história tamanha atividade artística, tantas discussões (amiúde estéreis) em torno dela e tanta expectativa por parte de um público (cada vez mais ávido por soluções)"(4). O assumido esvaziamento da atitude vanguardista – a saber, de sua opção pela superação programática da necessidade de atualizar em nome da virulência do transgredir e da ousadia do inaugurar – é hoje identificável com aquela falência.
Tal quadro parecerá, sem dúvida, pouco perturbador para os jovens que podem, no máximo, imaginar o que foi a atmosfera inebriante de contestação irradiada nos sixties e nos seventies (ao menos, até a metade destes últimos). Naquela oportunidade, foram rompidas as fronteiras entre uma arte dita ‘popular’ (representativa de uma low culture) e uma outra dita ‘culta’ (representativa de uma high culture), tendo uma dimensão vital ocupado um lugar de distinção em grande parte dos acontecimentos do socius. Por razões políticas, mas, também, por motivações filosóficas, inúmeros artistas – buscando uma afirmação visceral do conceito de diferença – antes desejaram a condição de anônimos que os riscos de uma superexposição à luz cooptadora dos holofotes do mainstream.
Por outro lado, o brado modelar do maio de 1968 francês ("a imaginação no poder!") não teria como fazer sentido nos tempos de agora em que a criatividade – estética, moral e política – passou a ser apanágio de pouquíssimas cabeças pensantes, teimosas e, determinadas a se desgastarem em seu nome. Acompanhando a lógica instrumental do capitalismo tardio, tal presunção não poderia durar mais do que durou: os artístas, que haviam se predisposto a voltar às ruas, mostrar o rosto e enfrentar as múltiplas possibilidades abertas pela partilha pública, voltariam logo, com o rabo entre as pernas, para o velho jogo de cartas marcadas das galerias e museus. À cata de uma ambicionada chancela institucional, vendida a peso de ouro pelos numerosos agentes do establishment, acabariam, de novo, se afastando de qualquer compromisso com o concretum, deixando-se levar pelos apelos fáceis da hiper-realidade(5), pelas seduções inesgotáveis do espetáculo generalizado(6) e pelas vantagens quase insuperáveis do valor de imagem(7).
2
Embora levantada como uma hipótese provocativa, nas duas décadas anteriores, foi nos anos 1980 que a questão da ‘morte’ da pintura(8) foi seriamente considerada à medida que vários artistas como que abandonaram o potencial ilusório do mundo bidimensional das telas, trocando-o pelos apelos intensos da ‘objetude’ (objecthood) tridimensional(9), pelas performances no tempo e no espaço reais, ou por uma duplicação de segunda mão da realidade mediante imagens mecanicamente produzidas e reproduzíveis (de preferência, pelas vias então ‘pregnantes’ da fotografia, da televisão e do vídeo). De repente, o pintar, enquanto uma atividade manual – sobretudo como vinha sendo pensada e praticada no Ocidente desde que, em fins do século XV, graças à engenhosidade dos irmãos flamengos Jan (f. 1441) e Hubert van Eyck (f. 1426?)(10), a técnica a óleo passou a substituir, com vantagens, a do afresco e a da iluminação de manuscritos – sofreu um forte retração. Isso porque não parecia conter em si possibilidades mínimas de auto-renovação, sem forças para competir com o fascínio crescente exercido pelas novas tecnologias da imagem ou com o poder da mídia para manipular, numa escala mundial, a mentalidade humana e fazer, assim, a história ‘acontecer’ à nossa revelia.
Segundo ainda Fox, "os representantes(11) de destaque daquela década manifestaram uma particular preocupação com questões inter-relacionadas (embora distintas), que foram, na maioria dos casos, identificadas como estratégicas pelos artistas modernos: a noção de originalidade e as formas pelas quais esta é expressa artisticamente; a missão política da vanguarda e a problematização do relacionamento entre artista e sociedade; a investigação sobre a natureza e os limites da arte etc. Contudo, as respostas dadas a elas se revelaram, a rigor, desviantes de seus pressupostos de base"(12).
Na opinião de Craig Owens(13), a apropriação, a ‘especificidade de local’, a transitoriedade, a acumulação, a discursividade e a hibridez seriam algumas das propriedades e estratégias poéticas representativas da arte deste fim-de-século que puderam distingui-la da de seus predecessores imediatos. Se projetarmos na pintura ou na escultura, um dos personagem mais instigantes de nosso imaginário, que tanto o cinema quanto a televisão acabaram tornando corriqueiro, ou seja, o ser biônico(14) – particularmente em sua recente encarnação como replicante(15) – e pensá-lo, com a devida seriedade, enquanto uma metáfora definidora das regras hodiernas de produção criativa – haverá chance de concluirmos que os ‘replicantes’ da arte – imagens e objetos, exaustiva e gratuitamente, repetidos, remakes e ready-mades de todos os gêneros(16) – são hoje aceitos como válidos – e até preferíveis – a toda idéia fugaz e ‘romântica’ de originalidade muito em função de sua representatividade em relação a nós mesmos e à frouxidão atual de nossos parâmetros de sensibilidade(17).
3
Não é difícil, sob esta ótica, reconhecer a importância de um artista como David Salle. Em diversas ocasiões, setores representativos da crítica especializada e da mídia o elegeram um dos expoentes da pintura oitentista graças a seu estilo único, deveras influente tanto no revivalismo que notabilizou, em âmbito internacional, aquele período quanto nas diversas tentativas de superá-lo ocorridas desde então. Poucos se mostraram tão antenados às minúcias e pressupostos deste conjunto de alterações estilístico-simbólicas – provisoriamente nominado pelos estudiosos de condição pós-moderna – quanto ele. Num momento psicologicamente difícil, "de perda de sentimentos num mundo de máquina marcado pelo desaparecimento da identidade em prol de um tipo de personalidade hábil – a alienação – mesmo em relação ao próprio corpo", em tempos como os nossos, tão carentes de "um extremo subjetivismo, um colossal ímpeto de energias ligadas à reflexão, uma sensibilidade à flor da pele" e tão entregues a "um desespero latente"(18), seus hoje famosos ‘metaquadros’ comportam-se como verdadeiros ‘pratos cheios’ no que tange a uma interpretação penetrante dessa perplexidade.
Salle soube se utilizar, ampla e habilmente, dos recursos do pastiche e da esquizofrenia, central, segundo Fredric Jameson(19) na arte hodierna, dedicando-se, a exemplo de outros pintores de sua geração(20), a pesquisar e utilizar materiais ‘alheios’ enquanto fontes diretas de inspiração para o seu repertório visual, sem dúvida, muito peculiar. Comportando-se como um autêntico explorador das contigüidades e dos encontros, vem se apropriando de cenas pinçadas dos recursos pletóricos da mass culture (manuais do tipo "Faça você mesmo" ou "Aprenda a desenhar em tantas lições" etc.), da história da arte (a pintura praticada na França e nos Estados Unidos dos séculos XIX e XX etc.), do vocabulário da propaganda (cartazes publicitários e fotografia antigas em preto e branco etc.) e do design de produto (reproduções de objetos técnicos retiradas de revistas de decoração de interiores etc.), em particular. Ancorado nisso, vem fomentando um repertório rico de referências mistas que, até hoje, suscita, no espectador, reações que vão de rasgados elogios – amiúde infundados e vazios – a admoestações e rejeições ferozes e intransigentes. A par de ser considerado um artista provocativo e renovador, também não faltaram algumas tentativas (ainda que tímidas) de negar uma significação mais ampla às intrigantes imagens que flutuam – como que numa deriva pré-estabelecida, pela superfície sempre movediça de seus quadros(22).
Trata-se de um pintor em cujo traço a robustez plástica se une, com maestria, a uma têmpera alegórica(23), eivada de símbolos imaginários e inquietantes metáforas. Com atributos tão ambíguos, seria, de fato, surpreendente que sua opus não despertasse tanta curiosidade e não se visse, em função disso, prejudicada (como tem, sem dúvida, ocorrido)(24) por leituras tão equivocadas em torno das quais se formou um curioso desafio para os críticos: o do acesso às senhas para sua ‘correta’ interpretação. O que, em verdade, ele quereria significar (como se pretendesse, à vera, significar alguma coisa) esta ou aquela enigmática imagem ‘descolada’ (cf. a minúscula teia de aranha na parte inferior direita de High and low (fig. 1) de 1994)?
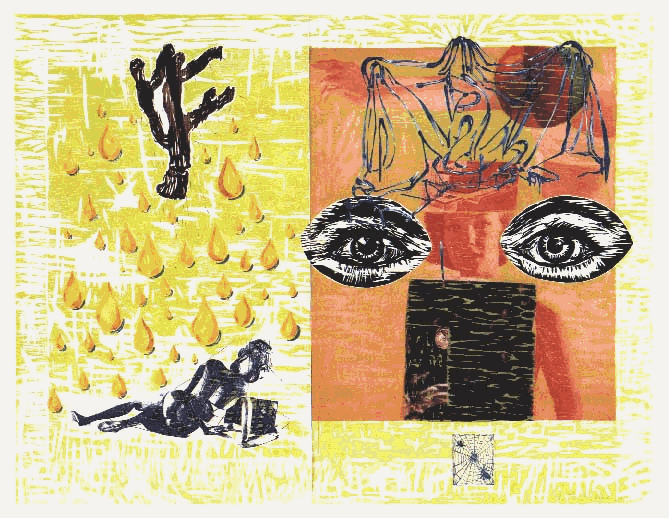
1. David Salle. High and low, 1994
Espécie de rebento tardio da bricolagem dadá-surrealista, Salle escava o sentido, forçando articulações inesperadas entre dados visuais, a princípio, díspares. Obcecado pela anatomização da narrativa, justapõe referências estilísticas clássicas e modernas, deixando-nos, quase sempre, a responsabilidade (ou uma espécie de tentação difícil de resistir) de um esforço de unificação interpretativa. Aberta e enigmática, suas telas plasmam metáforas com que nos inquietam já a partir de seus títulos elípticos. Segundo Suzy Gablik, elas "lidariam antes com o espetáculo do que com o sentido. Interpretá-los (seria) realizar um movimento em falso por ser demasiadamente perigoso desmascarar imagens que não negam sua inespessura"(25).
A utilização do recurso poético da justaposição(26) permite que se localize em seus quadros o mesmo pendor dadaísta por uma comunicação ‘às avessas’ antes explorada, com maestria, por Kurt Schwitters (1887-1948) em suas anticonstruções Merz e por Marcel Duchamp (1887-1968) em La mariée mise à nu par ces célibataires même (1923) ou no Étant donnés: 1. La chute d’eau; 2. Le gaz d’éclairage (1946-66). A divisão do quadro em setores que nunca se conectam, mas apenas coabitam num ‘desajeitado’ locus pictórico – providência que em muito favorece a competição visual entre sensações indeterminadas em seu isolamento – recorda, inevitavelmente, a relação de descentramento ótico-conceitual ‘cacofônico’ típico das démontages dadás, a erótico-asséptica que a noiva-sempre-estéril entretém com os impotentes celibatários ou a aporética que o manequim assexuado e geograficamente deslocado impõe ao esperançoso voyeur(27).
4
Diferentemente do artista moderno, autocentrado, porém, a rigor, predisposto a interagir com um mundo cuja ordem rigorosa o desafia, o artista pós-moderno busca transcendências num mundo materialmente fragmentado e desordenado. Ao mesmo tempo que toma a instabilidade desse mundo como ponto de partida, Salle cria outros, antes transversais que paralelos, antes enviesados que perpendiculares, nos quais qualquer referencialidade imagético-estilística ‘originária’ recua à guisa de uma memória alterada e longínqua. Em suas telas, as narrativas convencionais são neutralizadas e subvertidas por estratégias citacionais – silenciosas, mas nem por isso menos rapinantes – que, embora, a princípio, afloradas como visibilidades gratuitas, no fim das contas, se prestam a reagenciar valores ainda relevantes no meio artístico como o da originalidade, por exemplo.
Em algumas delas, é possível encontrar alusões explícitas a obras de determinados artistas, a saber: Diego Velazquez (1599-1660), Paul Cézanne (1839-1906), Alberto Giacometti (1901-66) e Jasper Johns (n. 1930). Além disso, Salle costuma fazer empréstimos constantes às artes decorativa e erótica, sendo comuns representações suas de figuras desnudas em poses teatrais e sexualizadas (fig. 2). A propósito, o corpo humano(28) tem sido um dos motivos mais explorados por Salle que, sempre que pode, o expõe ao nível de suas potencialidades epidérmicas (fig. 3). Embora também represente homens, a maioria dos personagens que habitam sua cena pictórica é do sexo feminino, destilando uma gestualidade, ora ‘cinematográfica’, às vezes chula ou fetichística. Tais representações mostram cenas a miúdo justapostas com objetos tridimensionais (mesas, cadeiras, garrafas, pedaços de tecido padronizados) ou sobrepostas por nomes e títulos oriundos, quase sempre, da literatura (fig. 4) e do cinema. e que, a princípio, nada tem a ver com elas.
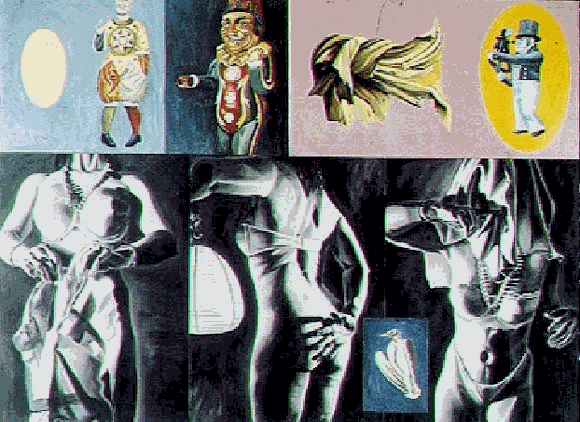
2. David Salle. Sextant in dogtown, 1987.

3. David Salle. American glass 2, 1987

4. David Salle. Tennyson, 1983.
Segundo Eleanor Heartney, suas imagens – diferentemente das cultivadas, entre outros, por Cindy Sherman (n. 1954) e Barbara Kruger (n. 1945), por exemplo – não se prestariam a serem ‘fetichizadas’. Nesta última, "o observador é implicado como voyeur na medida em que é atraído para uma relação desconfortável e problemática com os acontecimentos representados no interior da tela"(29). Nele ocorreria justamente o contrário. Embaraçado, o espectador acaba, cedo ou tarde, percebendo a perda de sua função receptora, já que ali nada há para ser narrado (ou que se dê com uma expectativa diegética). Na verdade, há sim – e tão-somente – uma espécie de invisibilidade ‘autonarrativa’ que se esgotaria em sua própria Erscheinung.
Neste sentido, parte substancial dos quadros de Salle se divide em áreas que, apesar de próximas – quase contíguas – por via de regra, preservam uma autonomia relacional. É sabido que, no início de sua carreira, ele chamou muito a atenção pela maneira pela qual privilegiava a disjunção estilística, assim como pelo tratamento figural que impunha às suas figuras(30), que, amiúde, se apresentavam apenas esboçadas, como que tensionadas pela ameaça de sua ausência ou pela iminência de seu apagamento. Muitas vezes, ele as ocultava sob instáveis esquemas coloridos (fig. 5), o que lhes conferia um inquietante aspecto fantasmagórico(31) que, irradiando para o conjunto um tônus de precariedade (fig 6), a tudo contagiava com uma aura de propinqüidade sígnica e exuberância matérica (figs. 7 e 8).
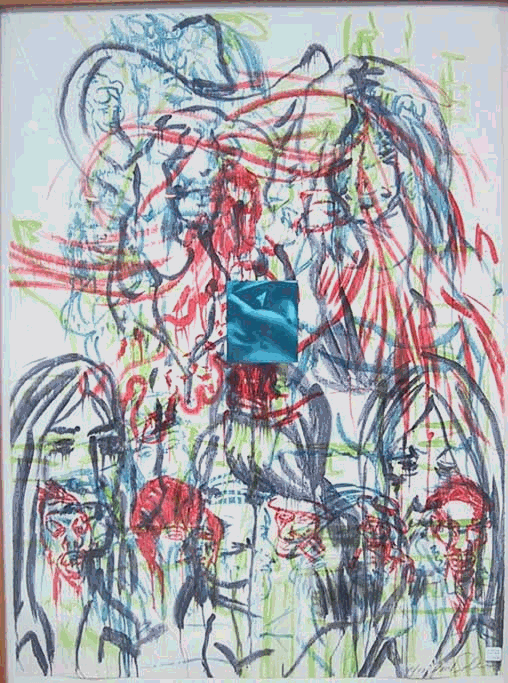
5. David Salle Theme from an aztec
moralist (couple), 1983.
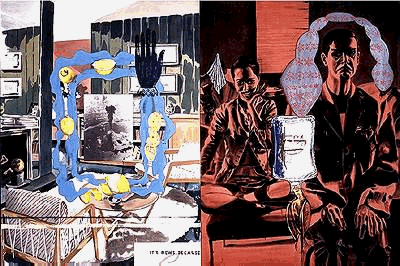
6. David Salle. Tragedy, 1995.

7. David Salle. Portrait of scissors and nightclub, 1987.
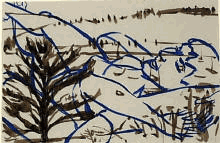
8. David Salle. Untitled, 2001.
O que pensar, então, de uma obra tão facetada? Certamente tudo. Ou quase nada. Ela propõe ao espectador uma clara relação de dupla captura, a saber, sensorial e reflexiva à medida que cada um de seus elementos exige ser observado e avaliado na sua condição de isolamento em si e abertura para o outro. Sua extrema maleabilidade semântica permite que se a associe a múltiplas referências e, ao mesmo tempo, a nenhuma, sendo sua dialética interna uma autêntica usina de sentidos. A exemplo dos quadros de inspiração lingüística de Magritte(32), Salle não se presta docilmente aos apelos da representação. Jamais emite mensagens óbvias. Antes privilegia uma ligação direta entre o ver e o pensar que atrai o bom senso para uma autêntica emboscada. As imagens que concebe jamais autorizam uma leitura rasa, mas estratégias sinceras e intrigantes como o afloramento e a torção.
Para arrematar essas breves notas, uma última constatação: assim como um homônimo seu(33), que, em seus trabalhos (sobretudo os da primeira fase)(34), flertou livremente com o ideário – via Arthur Krooker (n. 1945) e David Cook (n. 1945) – pós-estruturalista, Salle parece, por outro lado, privilegiar em seu trabalho determinadas questões(35). Como que refletindo a lógica irresistível da hiperrealidade contemporânea, uma extensa gama de ‘objetos parciais’ (letras, partituras, segmentos anatômicos, artefatos heteróclitos, padrões abstratos, caricaturas etc.) flutuaria (ao modo das telas-folha de Klee)(36) na virtualidade absoluta de seus painéis-dípticos, liberada (como nossos discursos) de toda amarração definitiva. Na condição de significantes vazios – que não se prestariam a portar qualquer liame tranqüilizador com o concreto – as peças de sua iconicidade ‘pós-utópica’ revelam um dimensão extremamente grave de todos nós. A que denunciaria nossa dificuldade crescente em intervir num mundo que, sem qualquer densidade, já que não facultaria sonhos, mas apenas logros e malogros…
NOTAS
[1] Vale
conferir, a propósito, as reflexões de Haroldo de Campos em seu ensaio “Poesia e
modernidade: Da morte da arte à constelação. O poema pós-utópico”, pp. 83-8
[2]
Cf. o primeiro capítulo (“Pós-orgia”) do livro de Jean Baudrillard, (n. 1929) A
transparência do mal: Ensaio sobre os fenômenos extremos.
[3]
“O cenário artístico de Nova Iorque nos anos 80 é uma existência que transborda
de vitalidade, de frenética atividade e de agitação. Surgem galerias de arte como
cogumelos,
[4] Howard Fox, “Avant-garde
in the 80s”, p. 28. As
colocações entre parênteses são minhas.
[5]
Cf., especialmente, o quinto (“From production to reproduction”) e o sexto (“Modernity,
simulation and hyperrreal”) capítulos do estudo de Mike Gane sobre as idéias de
Jean Baudrillard (ver bibliografia).
[6] Cf. de Steven Best e
Douglas Kellner, “Debord and the postmodern turn: New stages of spectacle”.
[7]
Cf. especialmente o primeiro capítulo (“A imagerie contemporânea) da Dissertação
de Mestrado de Ruy Sardinha Lopes (ver bibliografia).
[8] Cf., de Douglas Crimp,
“The end of the painting”. October,
16, 1981.
[9]
Cf., a respeito, o revisitado ensaio de Michael Fried, “Art and objecthood”. Artforum, 5 (10), 21, 1967.
[10]
Embora Vasari, em Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori
italiani (1550), tenha atribuido a invenção da pintura a óleo a ambos, sabe-se que
as origens do método são obscuras (cf. De diversis artibus, tratado possivelmente
escrito por Teófilo, entre 1110 e 1140).
[11]
Thomas West, ”Figure painting in an ambivalent decade”, pp. 25-8. West
parece privilegiar, neste ensaio, as produções de David Salle (n. 1952), Eric Fischl (n.
1948), Julian Schnabel (n. 1951) e Roberto Longo (n. 1953). Embora concorde com ele no
que diz respeito a Salle e Fischl, discordo quanto a Schnabel e Longo cujos nomes, de bom
grado, eu trocaria pelo de Mark Tansey (n. 1945).
[12]
Fox, p. 28.
[13] Cf., de Craig Owens,
“The allegorical impulse: Toward a theory of postmodernism”.
[14]
Ser cujo desempenho biológico é reforçado pela eletrônica ou pela cibernética.
[15]
Espécie de clone bioeletrônico dos entes humanos integrante da trama de Blade Runner,
filme dirigido, em 1982, por Ridley Scott e baseado, por sua vez, no romance Do
androids dream of electric sheep (1968), de Philip Kindred Dick (1928-82).
[16]
Cf. A idade neobarroca, de Omar Calabrese (especialmente o segundo capítulo:
“Ritmo e repetição, pp. 41-60).
[17] Cf., de Lars Nittve,
“Implosion”, pp. 33-5
[18] Honnef, op. cit., p. 137.
[19]
Fredric Jameson, “Pós-modernismo e sociedade de consumo”. In: KAPLAN, A.
(org.), O mal-estar do pós-modernismo: Teorias e práticas, pp. 43-7.
[20]
Casos de Carlo Maria Mariani (n. 1931), Peter Blake (n. 1932), Mike Bidlo (n. 1953) e os
já citados Eric Fischl e Mark Tansay.
[21] Sob tal ótica, aos olhos de Eleanor Heartney, ele deleitar-se-ia como um fiel baudrillardiano, ou à guisa do próprio Baudrillard, com o jogo não-narrativo e inteiramente circunstancial dos simulacros ou significantes vazios. Cf. “David Salle: Impersonal effects”, p. 122..
[22] O
escocês Thomas Lawson (n. 1951), outro destacado pintor contemporâneo, afirma em seu
ensaio “Toward another Laocoön or, The snake pit” que “Salle registra(ria)
um mundo tão estupefato pela narcose de seu próprio olhar ilusório que fracassa em
compreender que não
há nada de verdade ao seu alcance. Em meio a uma aparente abundância, não há uma
escolha real, mas apenas uma escolha de fantasmas”, p. 103
[23]
Craig Owens, “O impulso alegórico: Para uma teoria do pós-modernismo”, p. 45:
“A imagem alegórica é uma imagem de que nos apropriamos; quem escreve
alegoricamente não inventa imagens, mas confisca-as, reivindica o direito daquilo que tem
um significado cultural e coloca-se como seu intérprete. Em suas mãos, a imagem
transforma-se em algo diferente. Não significa um significado original, perdido ou
apagado. A alegoria não é hermenêutica. Ao contrário, acrescenta um outro significado
à imagem. Mas ao acrescentar, fá-lo apenas com o fim de operar uma substituição: o
significado alegórico toma o lugar de um outro precedente; é uma substituição. Por
este motivo, a alegoria foi condenada, mas esta é também a origem de seu significado
teórico”.
[24]
Salle é um dos pintores cuja obra analiso, de forma mais detalhada, na pesquisa A questão do figural na pintura do século XX: A crise
da representação de Paul Cézanne a Mark Tansey. Em linhas gerais, nele tento
reavaliar, epistemologicamente, o conceito de ‘figura’, ambicionando traçar em
novos moldes o ‘itinerário’ da pintura praticada neste século desde sua
semeadura cézanniana. Estou investigando, neste sentido, as dicções de Klee, Ernst,
Bacon, Magritte, Fischl, além – como o próprio título antecipa – da de Mark
Tansey.
[25] Suzy Gablik, “The
aesthetic of duplicity”. In: The post-avant-garde: Painting in the eighties.
Londres: Art & Design, 1987, p. 36.
[26]
Marcia Tucker, “An iconography of recent figurative painting: Sex, death, violence,
and the apocalypse”. Segundo a
autora, um exame iconográfico atento da pintura figurativa norte-americana, praticada a
partir de fins dos anos 70, apontaria como recorrente a fragmentação de imagens numa
única superfície. Tal recurso à sobreposição – aqui visto como análogo, em sua
capacidade de implementação de leituras ambiguas, à sobrecarga informacional típica de
nossa cultura – teria se manifestado com igual ênfase na escultura do período.
[27]
Octavio Paz, Marcel Duchamp ou O castelo da pureza,
p. 28 e segs.
[28]
Cf. de Eleanor Heartney, “David Salle: Impersonal effects”.
Como que
buscando agenciar as várias críticas de fundo moral que esta opção angariou a Salle, a
autora chega a conjeturar se, em seu próprio contexto, “tal reprodução de um
imaginário que objetifica as mulheres serviria mesmo para denunciar (ou antes buscaria se
valer d)a factual sujeição feminina dentro de uma sociedade patriarcal”.
[29] Heartney, p. 121.
[30] Peter Schjeldahl, “The
real Salle”, pp. 181-2.
[31]
A característica ‘materialidade’ de suas imagens, obtida, na maioria das vezes,
com a superposição de camadas transparentes levou um punhado de críticos (em sua
maioria, europeus) a compará-lo, um pouco pejorativamente, com Francis Picabia
(1879-1953). Cf. Peter Schjeldahl, “The real Salle", p. 181.
[32] Uwe Schneede, René Magritte, pp. 32-45.
[33]
Refiro-me aqui ao cineasta canadense David Cronenberg (n. 1943).
[34]
Cf. filmes como Shivers (1975), Rabid
(1977) e The brood (1979).
[35] Douglas Kellner, “David
Cronenberg: Panic horror and the postmodern body”.
[36]
Michel Foucault, Isto não é um cachimbo.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BAUDRILLARD, J. A transparência do mal: Ensaio sobre os fenômenos extremos.
Campinas: Papirus, 1996.
BAUDRILLARD, J. As estratégias fatais. Lisboa: Estampa, 1991.
BEST, S. e KELLNER, D. "Debord and the postmodern turn: New stages of spectacle". Internet, http://utminers.utep.edu/best/papers/phiecosoc/debord.htm (último acesso: 12 de outubro de 2003).
CALABRESE, O. A idade neobarroca. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
CELANT, G. Inexpressionisme: L’art au-delà de l’ére post-moderne. Paris: Adam Biro, 1989.
DEBORD, G. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
FOUCAULT, M. Isto não é um cachimbo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
FOX, H. "Avant-garde in the 80s". In: The post-avant-garde: Painting in the eighties. Londres: Art & Design, 1987.
GABLIK, S. "The aesthetic of duplicity". In: The post-avant-garde: Painting in the eighties. Londres: Art & Design, 1987.
GANE, M. Baudrillard’s bestiary: Baudrillard and culture. Londres: Routledge, 1991.
GODFREY, T. The new image: Painting in the 1980’s. Oxford: Phaidom, 1986.
HEARTNEY, E. "David Salle: Impersonal effects". Art in America, Jun. 1988.
HONNEF, K. Arte contemporânea. Colonia: Benedikten Taschen, 1992.
KELLNER, D. "David Cronenberg: Panic horror and the postmodern body". Canadian Journal of Political and Social Theory, 13, 3, 1989.
LAWSON, T. "Toward another Laocoön or, The snake pit". Artforum, Mar. 1986.
KAPLAN, A. (org.) O mal-estar do pós-modernismo: Teorias e práticas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
LOPES, R. L. "A imagem na era de sua reprodutibilidade técnica". Dissertação de mestrado. São Paulo: USP, 1995LUCIE-SMITH, E. Art in the eight. Oxford: Phaidom, 1990.
NAIRNE, S. State of the art: Ideas and images in the 1980’s. Londres: Chatto & Winds, 1987.
NITTVE, L. "Implosion". In: IMPLOSION – ett postmodernt perspektiv/A Postmodern Perspective, Estocolmo: Moderna Museet, 1987.
OWENS, C. "O impulso alegórico: Para uma teoria do pós-modernismo". Crítica, 5, 1989.
PAZ, O. Marcel Duchamp ou O castelo da pureza. São Paulo: Perspectiva, 1977.
SCHJELDAHL, P. "The real Salle". Art in America, Sept. 1984.
SCHNEEDE, U. René Magritte. Barcelona: Labor, 1978.
TUCKER, M. "An iconography of recent figurative painting: Sex, death, violence, and the apocalypse". Artforum, 1982 (Summer).
TUTEN, F. "David Salle at the edges". Art in America, Sept. 1997
WEST, T. "Figure painting in an ambivalent decade". Art International, 9, 1989.
* Graduado e Mestre em Filosofia, Doutor e Pós-Doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor Adjunto da Escola Superior de Desenho Industrial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (ESDI/UERJ). Professor-pesquisador do Curso de Licenciatura em Educação Artística das Faculdades Integradas Bennett onde desenvolve o projeto A questão do figural na pintura do século XX: A crise da representação de Paul Cézanne a Mark Tansey.